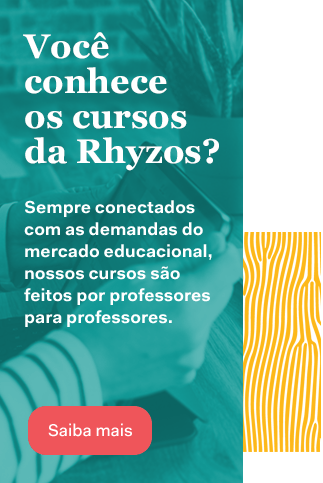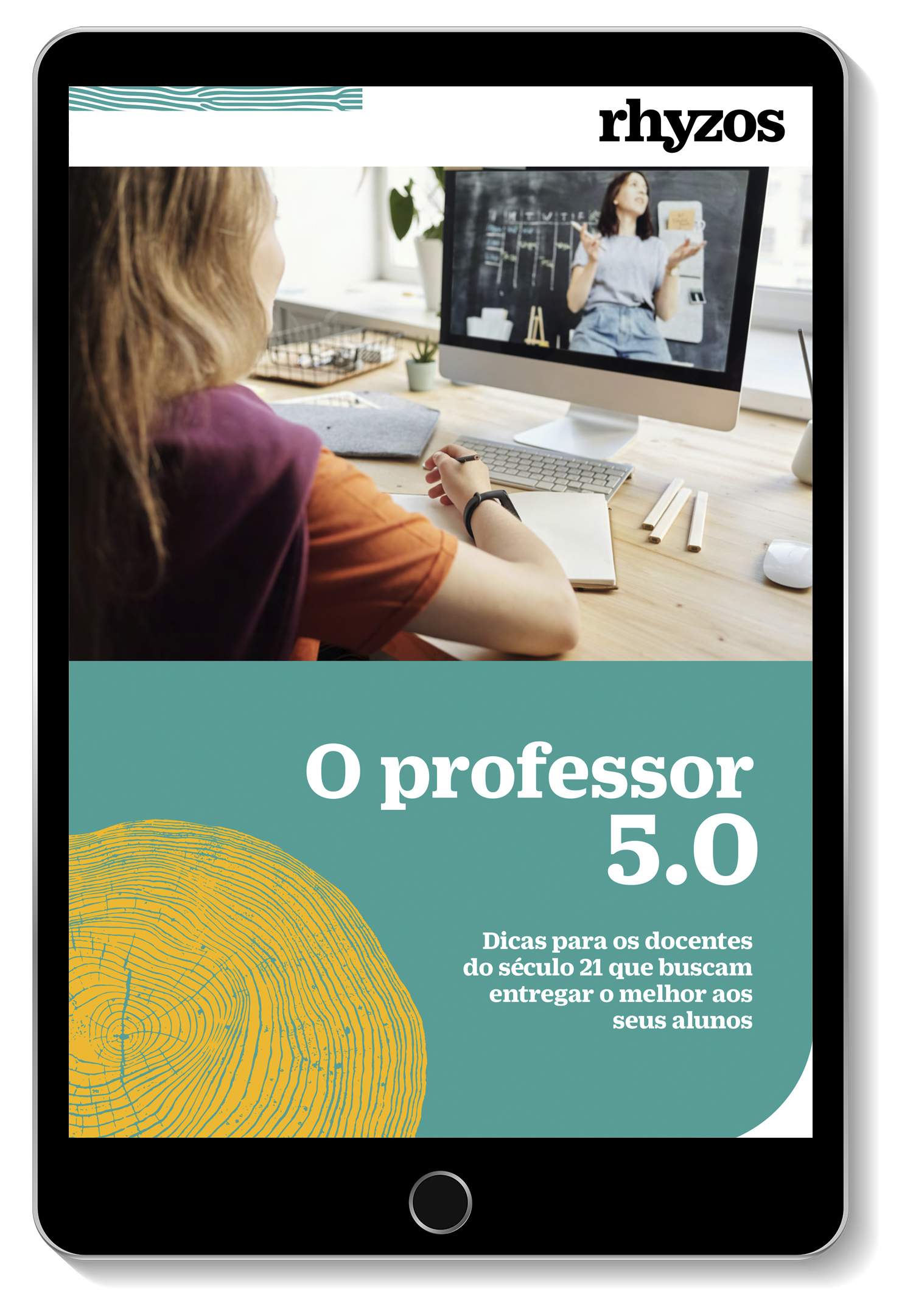“Professores e gestores precisam ter um olhar racializado”
PAULA CHIDIAC 14/03/2023
Em 2003, o Congresso aprovou a Lei 10.639, que tornou obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio. Cinco anos depois, estabeleceu a mesma prática em relação a etnias indígenas. Passados 20 anos, qual é a efetividade da legislação?
Para o professor adjunto de Educação das Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Marcello Felisberto Morais de Assunção, hoje existe um “curto-circuito” na lei. É que, apesar das crianças precisarem aprender sobre o tema proposto, o ensino superior – sobretudo os cursos de licenciatura – não forma adequadamente os professores para isso.
“Tem uma obrigatoriedade que coloca o professor ali na ponta de lança, mas muitas vezes em um ensino precarizado nas escolas públicas ou com uma formação que nunca se voltou para questões de debate racial na escola privada”, diz Assunção.
Ele defende a necessidade de formação adequada aos docentes para que, de fato, tornem-se capazes de ministrar aulas interculturais, longe dos estereótipos de uma África única e de indígenas de cocar. Na entrevista a seguir, o especialista explora essa e outras questões – e explica por que a descolonização do currículo é um assunto tão urgente quanto negligenciado.
A entrevista foi editada para efeitos de clareza e concisão.
Rhyzos Educação – Qual a importância da Lei 10.639/2003 para a história e a cultura afro-brasileira?
Marcello Morais de Assunção – Essa lei é um resultado do acúmulo de lutas do movimento negro organizado. Jornais da imprensa negra do século 19 já ecoavam a falta dessa educação. Abdias do Nascimento, intelectual congressista com trajetória no teatro, participou do Congresso Negro Brasileiro de 1950 afirmando a necessidade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Ou seja, 63 anos antes de a lei ter sido implementada conseguimos rastrear vários momentos em que o Estado foi negligente em relação às demandas do movimento negro organizado ou, como a gente gosta de chamar, movimento negro educador.
A Lei 10.639 significa uma refundação da narrativa nacional que foi por muito tempo ligada ao mito da democracia racial — a ideia de que a miscigenação gerou igualdade — mas também com toda uma narrativa nacional de apagamento e silenciamento de epistemologias não brancas. Porque não é só uma questão negra, é uma questão indígena também. É uma trajetória de rompimento da narrativa eurocêntrica e brancocêntrica.
Leia mais: Como adotar práticas antirracistas em sala de aula
A aplicação tanto dessa lei quanto da Lei 11.645, relativa aos povos indígenas, foi efetiva? Quais as dificuldades encontradas no meio do caminho?
Pensando nessas leis, você tem um curto-circuito. Quando o projeto da professora e relatora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva colocou a justificativa do parecer, a obrigatoriedade se estendia para o ensino superior, mas esse trecho foi retirado. Agora, tem uma obrigatoriedade que coloca o professor ali na ponta de lança, mas muitas vezes em um ensino precarizado nas escolas públicas ou com uma formação que nunca se voltou para questões de debate racial na escola privada.
Secularmente, o letramento racial da sociedade brasileira tem sido feito pelas instituições do movimento negro fora do Estado. Então, se a gente pensar no papel de um desfile como o da Beija-Flor, recentemente, ou da Mangueira, em 2019, ou do samba e do hip-hop, vemos uma cultura letrando racialmente a sociedade fora do Estado. Isso sempre aconteceu, a despeito de uma nação estruturalmente racista.
Como isso afeta as licenciaturas e, consequentemente, a educação básica?
Temos cursos, inclusive de História, em que as pessoas passam sem ler nada sobre questões indígenas ou sobre figuras negras. Como você vai pensar a diversidade sociocultural se está centrado em uma experiência curricular de sujeito único, de pessoas brancas? Na pedagogia há disciplinas como história da educação, currículo, que são disciplinas em que a questão racial poderia ser debatida como um dos elementos centrais. Ainda mais em um país marcado por um período de escravidão e, depois, por um pós-abolição em que Estado reproduziu eugenia e uma série de práticas que colocaram o negro como sujeito precarizado.
É essencial que se coloque a obrigatoriedade do estudo da história negra e dos povos indígenas nos cursos de licenciatura. E uma disciplina não resolve a questão. Tenho alunos que chegam no sexto ou sétimo período sem ver nada sobre autores negros ou indígenas. Essa falta da discussão racial continua se perpetuando, e uma das causas é a desproporção entre brancos e negros na universidade. A política de cotas foi muito boa sob o aspecto discente, mas o quadro docente continua tendo cerca de 3% de pessoas negras. E nem vou falar de professores indígenas.
Além de políticas públicas, que outras medidas podem ser tomadas para termos uma educação étnico-racial?
De um lado, é preciso que a sociedade civil pressione o Estado brasileiro, agora que, em tese, temos mais diálogo — lembrando que houve a recriação da Secretaria da Igualdade Racial, extinta desde o governo Temer, agora como ministério. De outro, entender que essa questão não é um problema dos negros. Ela afeta mais a população racializada, negros e indígenas. Mas a construção de uma identidade negra está relacionada com a construção de uma identidade branca.
É preciso que as pessoas brancas se vejam e se coloquem nesse papel de agentes, por vezes ativamente contribuindo para a reprodução do racismo. Sem discutir o conceito de branquitude, não vamos superar o racismo.
Anos atrás, as pessoas tinham desculpa para, por exemplo, haver apenas bonecas brancas em uma brinquedoteca. Hoje em dia, o gestor vai intervir e comprar também brinquedos que tenham a ver com a questão indígena e negra. Se não o fizer, é porque não quer. Não olhar para a questão racial significa ser um sujeito ativo da reprodução desse racismo.
Leia mais: Para Viviana Santiago, escola tem responsabilidade no combate ao racismo
Nos últimos anos vem se falando muito sobre a descolonização do currículo. O que isso significa na prática?
Tem um autor que chama o currículo de documento de identidade. Só que por muito tempo os currículos reproduziram a identidade de uma nação branca, baseada em valores eurocêntricos. Na prática, isso significa que os currículos e até a mídia silenciam os negros ou os apresentam por meio de visões estereotipadas, como escravos. É uma narrativa única, para lembrar das palavras da escritora Chimamanda Ngozi Adichie, que reproduz a lógica do estereótipo. Então eu digo que o negro é um escravo, que o indígena usa cocar.
Essa redução é fundamental para construir uma narrativa única. Precisamos construir políticas públicas para revitalizar esse currículo e, a partir disso, fazer uma formação continuada. Também é necessária uma escuta para o que as narrativas do movimento negro — incluindo as escolas de samba, o hip-hop, os slams — e indígenas têm construido para se contrapor à narrativa nacional. É assim que conseguimos perceber onde devemos intervir.
Quais soluções os professores podem adotar para formar crianças capazes de reconhecer as contribuições de diferentes povos?
A escola é, na maior parte das vezes, um dos principais espaços de reprodução do racismo. Memórias que pessoas negras ou indígenas têm do espaço escolar são violentas. Não só estruturalmente, mas também no sentido do bullying. Pedagogas lidam com casos de racismo desde a educação infantil, com crianças de 3 anos reproduzindo, seja num discurso ou numa questão estética do que é bonito ou não é bonito. Ele se internaliza mesmo antes de a criança entrar na escola.
O professor tem que entender como formar essas crianças racialmente nos valores das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas para uma educação intercultural. Ela se dá quando o educador traz, por exemplo, livros infantis e brincadeiras de etnias indígenas ou negras sem que tudo vire uma coisa abstrata. Tem que falar de etnias, especificidades, não de uma maneira geral. Porque as pessoas sabem quais são os estereótipos.
Precisamos evitar essa coisa fácil de falar sobre o assunto só no Dia dos Povos Indígenas ou da Consciência Negra. Que isso esteja implementado no currículo ao longo do ano.
Outra questão fundamental é a estética. O professor realizar atividades de autorretrato, em que as pessoas se representem segundo um espectro de cores adequado. O que acontece usualmente é crianças negras se desenharem da cor salmão, porque a estética branca é valorizada e ela acaba desejando aquilo. Os gestores e professores precisam ter um olhar racializado, porque senão nem saberão o que está acontecendo.
Leia mais: Intolerância religiosa: qual é o papel da escola no combate à discriminação?
Tem uma sugestão de pauta? Quer compartilhar sua experiência em sala de aula, inspirando outros professores? Então escreva pra gente! Você pode fazer isso usando a caixa de comentários abaixo. Ou através de nossas redes sociais – estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn.