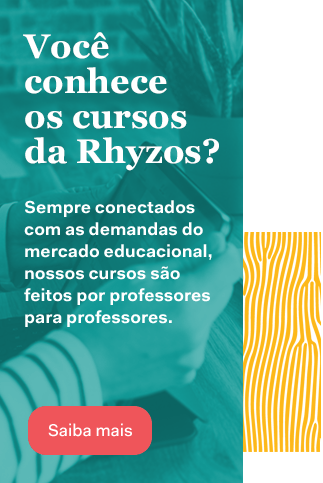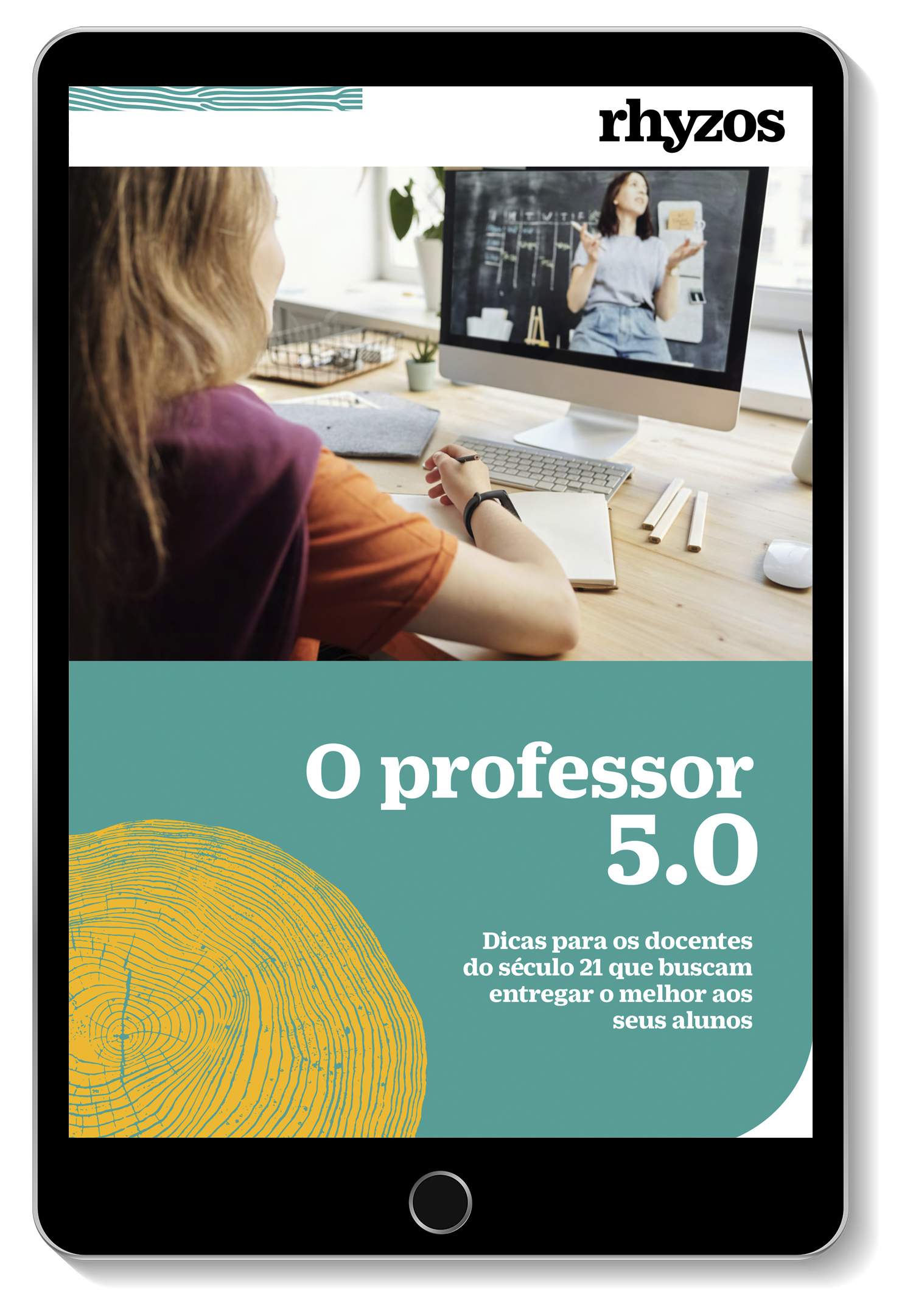Educação inclusiva: mudar a escola para não deixar ninguém para trás
LILIANE GARCEZ*
07/12/2022
Em 25 de agosto de 2009, na publicação do Decreto nº 6.949, que promulga a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e seu Protocolo Facultativo, participamos de alguns debates sobre a necessidade de tal procedimento. Afinal, se em julho do ano anterior, o Decreto Legislativo nº 186 aprovara o mesmo texto da referida Convenção, ratificando esse documento de direitos humanos como parte da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), seria preciso referendar que a CDPD era também uma norma interna brasileira? O tempo encarregou de dizer que sim. O estabelecimento da CDPD foi, sem dúvida, o coroamento do movimento político das pessoas com deficiência em nosso país e no mundo. Fruto da luta social contra a invisibilidade dessa parcela da população, suas diretrizes apontam para o afastamento do modelo biomédico e para o alinhamento aos pressupostos da perspectiva social e dos direitos humanos. Com sua ratificação, consolidamos ainda mais nosso arcabouço legislativo, cujo objetivo geral é impedir violações de direitos, protegendo e assegurando o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos.
Leia mais: Por que aumentar os níveis de inclusão nas escolas brasileiras
Em que pese que as contravenções e as violações continuem ocorrendo de maneira sistêmica, dada nossa estrutura social capacitista, temos a garantia de que podemos recorrer às diferentes instâncias para denunciar e mudar essa realidade, ampliando cada vez mais a potência de nossa cidadania. Assim, desde 2009, é notório que nenhuma política pública pode contrariar o que está disposto na Convenção. Não é, portanto, exagero afirmar que, desde então, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem buscar realizar a finalidade do Estado brasileiro, considerando a seguinte definição de pessoa com deficiência:
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas, conforme previsto no segundo artigo da Lei Brasileira de Inclusão.
O deslocamento da centralidade da deficiência para a relação não é trivial e possibilita hoje que repensemos a questão da não garantia do direito à educação às pessoas com deficiência a partir da principal barreira que tem impossibilitado tanto o acesso como, em muitos casos, negligenciado o direito de aprendizagem: a barreira atitudinal. Sem entrar em falsas disputas, é sempre importante reafirmar que os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados e que têm como objetivo maior assegurar vida digna para todas as pessoas, sem discriminação e em igualdade de condições. A educação, por sua função social de garantir o desenvolvimento pleno de cada pessoa, é entendida como instrumento potente para a garantia de outros direitos. Nesse caminho, as declarações e tratados de direitos humanos elaborados desde 1948 têm cumprido sua função de influenciar as legislações e políticas públicas dos Estados Parte. Cabe a toda a sociedade não admitir ameaças e retrocessos educacionais.
Hoje, temos clareza de que nossos esforços devem ser direcionados à mudança do sistema educacional para que ele se torne cada vez mais inclusivo, tal qual disposto em nossa legislação, quebrando as barreiras que impedem o acesso de estudantes, com e sem deficiência, ao currículo escolar. E fazer esse movimento só é possível com informação e convivência. Como as barreiras são percebidas na relação, posto que elas ganham formato ao impedirem a participação das pessoas, não é possível conhecê-las fora dessa mesma relação. Além disso, é importante ressaltar que, desde 2008, por meio da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), o Ministério da Educação já adotava essa concepção. Pode-se dizer que há aproximadamente 12 anos estão sendo realizados investimentos em termos de apoio técnico e/ou aporte financeiro no sentido de qualificar as escolas comuns para que elas trabalhem na perspectiva da inclusão.
Os dados de matrícula dos últimos anos têm sido bem diferentes daqueles de meados dos anos 2000. O último relatório do Censo Escolar, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), aponta que mais de 90% do público-alvo da educação especial que frequenta a escola está matriculado em salas de aula comuns. Dados a se comemorar, certamente. Porém, segundo documento da Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 12% e 15% da população brasileira têm algum tipo de deficiência, e o número de crianças e adolescentes matriculados em nossas escolas ainda não chega a 4%. Há, portanto, muito a se fazer para, no mínimo, equiparar o acesso à escola de crianças e adolescentes com e sem deficiência.
Leia mais: Depoimento: “Precisamos de escolas preparadas para incluir alunos especiais”
Por outro lado, sabemos que estar matriculado não basta. O direito de aprendizagem, quando é parcialmente implementado, de fato, não é cumprido. Dessa maneira, os investimentos devem ser mantidos e ampliados para que todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos, quaisquer que sejam suas características ou condições, tenham garantido o direito de serem escolarizadas em ambientes inclusivos. Cabe ao Estado se certificar e garantir que os sistemas de apoio necessários estão sendo disponibilizados para que isso ocorra sem discriminação ou exclusão.

Portanto, a pseudoescolha por escolas especiais ou inclusivas traduz-se como uma meta irreal, para usar as palavras do Comentário Geral nº 4 sobre o direito à educação inclusiva elaborado em 2016 pelo Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU). Afinal, se o Estado brasileiro compromete-se com a criação ou manutenção de escolas especiais, ele não conseguirá, simultaneamente, proporcionar recursos no processo inclusivo. Na prática, portanto, os investimentos nas escolas especiais resultam em matrícula obrigatória nessas escolas e militam contra o princípio da inclusão e contra a própria qualidade das políticas públicas brasileiras que devem ser organizadas para efetivar nosso projeto de país. Por tudo isso, sabemos que o desafio não está na adequação de crianças e adolescentes com deficiência, e sim de como todos nós estabelecemos saberes e práticas que possibilitem sair da perspectiva capacitista.
Vale lembrar que o capacitismo baseia-se justamente na deficiência como incapacidade, reduzindo a pessoa com deficiência ao impedimento físico, intelectual, mental ou sensorial. Não se trata, pois, de reforçar uma cultura de tolerância à diferença, em que se permite às pessoas que enquadramos como tais a participação em um espaço específico, previamente estabelecido, especial. Ao contrário. Para sair do assistencialismo e romper com o capacitismo, é urgente e necessária a estruturação de pressupostos de valorização da pluralidade de corpos, sentidos e pensamentos, (re)criando uma escola que respeite o direito à diferença e que mova recursos equitativamente para a garantia do acesso de todos, sem deixar ninguém para trás.
A acessibilidade, colocada como chave, como conceito-ação, traz subsídios para rompermos com a hegemonia da perspectiva biomédica. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), por exemplo, já faz a correspondência entre barreiras e acessibilidade, e não dos diferentes impedimentos físicos, mentais, intelectuais e sensoriais e apoios específicos para cada um deles. Ao focalizar o direito ao acesso e à participação, nossa legislação escapa da centralidade do laudo como definidor da pessoa e fundamenta-se na ideia de funcionalidade, compreendendo a pessoa na frente da deficiência. Com esse deslocamento, ela nos instiga a colocar, em nosso cotidiano, a deficiência como característica humana e potencializa o conceito de interseccionalidade para dar conta da perspectiva social. Afinal, somos múltiplos.
Hoje, no Brasil, nossos esforços estão na consolidação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado (IFBr) que deve ser utilizado pelas diferentes áreas que efetivam os direitos sociais, como saúde, previdência social, trabalho e educação. A regra é a inclusão, e a acessibilidade é obrigação. Assim, sabemos que não há uma linha de chegada para a inclusão, e sim situações desafiadoras presentes as quais temos que conhecer e vivenciar para dar respostas transitórias e aprimoráveis, mas nem por isso menos potentes.
Não se trata apenas de conceitos, e sim de um entrelaçamento entre pensamento, sentimento e ação. A educação inclusiva como um convite à ação está posta na Agenda 2030 e nos seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas. Como os direitos humanos, esses objetivos não podem ser lidos separadamente, pois são indivisíveis. O ODS 4, dedicado à educação, estabelece que nos obrigamos a assegurar para todas as pessoas, sem exceção, uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade ao longo da vida. A Declaração de Incheon reforça a resposta a essa demanda educacional mundial de não deixar ninguém para trás e atenta para o fato de que, na perspectiva da inclusão, a exceção é parte da regra: todas e todos usam o acesso principal e, no caso da educação, a escola comum.
Nenhuma meta de educação deverá ser considerada cumprida a menos que tenha sido atingida por todos. Portanto, comprometemo-nos a fazer mudanças necessárias nas políticas de educação e a concentrar nossos esforços nos mais desfavorecidos, especialmente aqueles com deficiências, a fim de assegurar que ninguém seja deixado para trás.
Esse é o caminho escolhido para o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Caminho no qual cada pessoa importa, pois é fonte de inspiração para ampliar repertório e rever leis e atitudes. Dessa forma, a oferta de serviços e de recursos de acessibilidade volta-se à eliminação das barreiras e às mudanças de estrutura e formas de pensar e agir.
Para a inclusão plena, não podemos nos contentar mais com espaços excludentes para ninguém. Os projetos pedagógicos e os currículos devem ser estruturados de maneira a não deixar ninguém para trás. Afinal, educação inclusiva não é sinônimo de educação especial, mas uma forma de vivenciar nossa escola diversa e a riqueza que pode ser colocada a serviço da educação.
No Brasil, a institucionalização do Atendimento Educacional Especializado (AEE), assim como dos demais serviços da educação especial e adaptações razoáveis para garantir aos estudantes com deficiência o pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, passa a ser parte da função social da escola e não de um grupo de educadores engajados ou sensíveis. Diferentemente do machismo e do racismo, o capacitismo tem suas raízes no assistencialismo e na benemerência: é por meio do discurso e da prática de superproteção e de cuidado especial que muitas vezes se engendra o preconceito contra as pessoas com deficiência. Por esse motivo, a quebra das barreiras e a disponibilização de apoios específicos não podem mais ser percebidas como mero atendimento a uma demanda individual, mas lidas como indicadores de nossa capacidade de qualificação da educação, tal qual posto em Incheon.
A eliminação das barreiras passa pela desierarquização dos saberes e pela construção de ações intersetoriais horizontalizadas, e não pela reconsideração de um modelo que se pretende total. Ao incentivar o movimento de reflexão colaborativa como instrumento potente e estratégia eficaz para uma atuação que inclui todas e todos no processo, a perspectiva da educação inclusiva revela-se como uma chave para inventarmos outras possibilidades de encontro, o que significa dar centralidade ao que é produzido em cada escola pelas pessoas que lá convivem.
Leia mais: Na Bett Brasil, educadores propõem escola mais inclusiva

O movimento de participação plena e pertencimento aposta na consolidação das estratégias pedagógicas e de gestão a partir do que cada equipe conhece e realiza e das relações estabelecidas em cada unidade escolar. O engajamento de educadores e gestores é fundamental para que o direito à educação seja vivenciado no cotidiano de cada uma das nossas crianças, adolescentes e jovens, sem exceção, bem como nos esforços para que eles não precisem justificar sua presença nas salas de aula comuns.
Já sabemos que quanto mais os profissionais da educação especial e da educação comum conseguem potencializar o trabalho colaborativo nas unidades escolares, maior é a possibilidade de êxito na organização de respostas localizadas e intersetoriais a partir de arranjos territoriais. Em cada um deles, estabelecer redes, por meio da participação ativa do conjunto de profissionais das diferentes áreas sociais, sem hierarquizar conhecimento, está na ordem do dia. O combate à pandemia é um exemplo de que respostas isoladas não se mostram eficientes. Ao pararmos de gastar energia reafirmando posições e requentando falsas dicotomias, teremos ampliadas as oportunidades de tomarmos decisões que tenham como centralidade as pessoas reais que se relacionam umas com as outras. Nesse sentido, é fundamental partir do diálogo entre princípios, dos saberes e práticas locais e das diretrizes de políticas públicas para assegurar os objetivos educacionais.
Para referendar esse caminho, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) lançou, em 2020, o Relatório de Monitoramento Global da Educação, que avalia o progresso em direção ao ODS 4 e suas 10 metas, bem como outras relacionadas à educação na Agenda 2030. O relatório chama a atenção para as pessoas que foram excluídas do direito à educação e para as grandes desigualdades ainda existentes. O documento, motivado pela referência explícita à inclusão na Declaração de Incheon nos lembra que não importa qual argumento possa ser construído em contrário, nós temos o imperativo moral de garantir que todas as crianças, adolescentes e jovens tenham direito à educação de alta qualidade.
Diante dessa constatação, revisitar o que fazemos, por que fazemos, como fazemos e para quem fazemos é o movimento para qualificar a educação, ainda que envolva dúvidas e incertezas. O desafio comum é ampliar as ações que incidem sobre a redução de situações de exclusão social a que estão submetidas crianças, adolescentes, jovens e adultos, contribuindo, assim, para a garantia de seus direitos.
Por entender que a educação inclusiva é uma educação de qualidade para todas as pessoas, há que se investir cotidianamente em mudanças nos diversos contextos escolares, que, não raro, ainda estão imersos em uma cultura na qual o lugar dos estudantes com deficiência não é na escola comum. Se a ideia de uma educação republicana e pública é justamente ter como efeito que ninguém seja considerado cidadão de segunda categoria, a educação não pode servir para reafirmar o contrário.
O Decreto Federal nº 10.502/2020, ao reconceituar “equidade” e “inclusão” de modo que essas palavras alinhem-se ao seu oposto, justifica a exclusão e cria uma falsa ideia de escolha entre a escola comum e a escola que tem como recorte a condição de deficiência. Revestindo-se de um saudosismo nefasto, alinha-se ao que há de mais excludente na sociedade para se aproveitar das fragilidades das famílias e da falta de informação sobre os direitos das crianças e dos adolescentes.
Ao reafirmar a opção da sociedade brasileira expressa na CF/1988 e constituir um sistema educacional inclusivo, estamos nos colocando em movimento para enfrentar as desigualdades e os processos de patologização e judicialização de corpos, mentes e da própria vida.
Nesse caminho, está posta a compreensão de que as escolas especiais consistem em instituições segregadas e segregadoras, que não promovem o direito à convivência, à participação social e à educação. A convivência plural em diferentes espaços sociais representa benefícios para todas as pessoas, pois possibilita a visibilização e a quebra das barreiras, ampliando experiências humanizadoras.
Não há possibilidade de aceitarmos retrocessos em relação ao compromisso inegociável pela defesa da educação escolar como direito humano. O desafio que está posto para nós é, portanto, envidar esforços no sentido de transformar nosso sistema educacional para que ele receba todas e todos, persiga altas expectativas para cada um, iguale oportunidades e diferencie estratégias. Afinal, o que foi feito para excluir não pode incluir. Quem tem seus direitos negados ou negligenciados tem pressa.
Leia mais: Trabalhando o autismo e a inclusão na escola
Sobre a autora

Liliane Garcez é idealizadora e articuladora do Coletivxs, mestra em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), psicóloga pelo Instituto de Psicologia da USP e administradora pública pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Especialista contratada para elaboração de relatório sobre o progresso brasileiro em relação ao monitoramento do ODS 4, componente do Relatório de Monitoramento Global da Educação 2020. Autora do livro “Educação inclusiva de bolso” (Editora do Brasil).
*Este artigo foi originalmente publicado no livro Pela Inclusão, disponível no site do Instituto Alana.
Tem uma sugestão de pauta? Quer compartilhar sua experiência em sala de aula, inspirando outros professores? Então escreva pra gente! Você pode fazer isso usando a caixa de comentários abaixo. Ou através de nossas redes sociais – estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn.